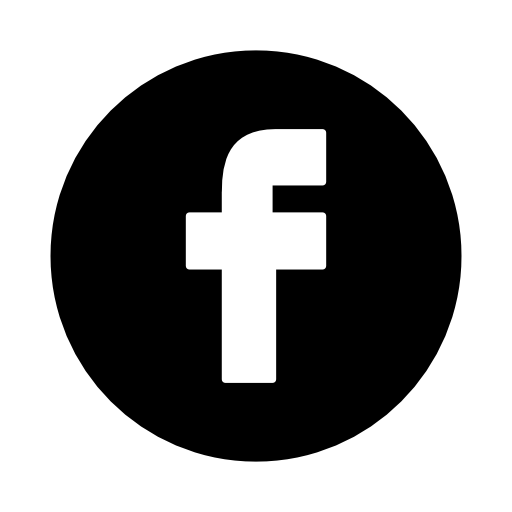Hannah Arendt, em seu livro Origens do totalitarismo – anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo, relata o surgimento da condição mundana de inúmeros grupos de pessoas que passaram a ser caracterizadas como “minorias”, perante o resultado de entraves etnopolíticos das guerras mundiais do século XX.
O contínuo estado de instabilidade que demarcava o âmbito de uma Europa sempre a beira da destruição em massa resulta na migração de diversos grupos humanos, que, na esperança de consolidar suas liberdades de expressão ou simplesmente a permanência de suas vidas, abandonavam seus países de origem. Isso determinou um destino insólito: além de não terem mais lares, agora já não tinham mais direitos humanos, ou qualquer outro direito.
As tentativas de estabelecer a homogeneidade de uma população perante determinado território difundiram a criação da ideia de Estados-nações e tratados das minorias. Mas, para Hannah Arendt, a possibilidade de criação de Estados-nações pelos métodos dos tratados de paz era uma pretensão absurda devido à diversidade populacional dos países europeus. Consequentemente, os povos que não receberam o status de Estado se tornaram minorias nacionais instituídas e consideravam tais tratados como um jogo arbitrário com a finalidade de estabelecer a relação entre senhores e servos.
Segundo Arendt “os representantes das grandes nações sabiam demasiado bem que as minorias existentes num Estado-nação deviam, mais cedo ou mais tarde, ser assimiladas ou liquidadas”. Entretanto, a instituição dos tratados simbolizou claramente a diferença entre cidadãos nacionais e minorias. Estas eram pessoas que necessitavam de uma lei de exceção por destoarem da identidade dominante, enquanto aqueles eram de fato cidadãos que contavam com a proteção completa das instituições legais.
A diversidade entre culturas tornou-se algo tão comum neste período europeu que muitas vezes não era possível identificar a origem de determinada pessoa. Cunhou-se, assim, a rotulação de displaced persons (pessoas deslocadas) àqueles que estavam à margem da lei ordinária. Segundo Arendt, a expressão “foi inventada durante a guerra com a finalidade única de liquidar o problema dos apátridas de uma vez por todas, por meio do simplório expediente de ignorar a sua existência”.
Mas essa perspectiva reconhecia ao menos o fato de que essas pessoas haviam perdido a proteção de seus governos e requeriam acordos internacionais para salvaguardar sua condição de cidadãos. O não reconhecimento da condição de apátrida abriu caminho para a repatriação forçada, ou seja: a deportação do refugiado político para seu país de origem. Em muitos casos esse país se negava a reconhecê-lo como cidadão, ou utilizava essa reintegração involuntária para castigar o refugiado.
Nem por um instante se pode notar o direito à hospitalidade perante estrangeiros, tão sonhado por Kant no seu projeto de paz perpétua. Todos esses problemas determinaram as falhas das tentativas de repatriação e naturalização.
Assim sendo, mesmo reconhecida a impossibilidade de deportação de uma pessoa, por meio de tratados, na prática isso não impedia um Estado de expulsá-la de suas fronteiras limítrofes. Esse “homem sem Estado” – um legítimo “fora da lei” – era agora tido como uma anomalia que não adentrava na estrutura legislativa normal de nenhum país. Ele agora estava sujeito ao arbítrio da polícia, que não hesitava em cometer atos ilegais para diluir o número de indesejáveis no país. Conforme Arendt, “o Estado, insistindo em seu soberano direito de expulsão, era forçado, pela natureza ilegal da condição de apátrida, a cometer atos confessadamente ilegais”.
O apátrida, sem direito a residência e ao trabalho, naturalmente, acabava tendo que subverter a lei para poder sobreviver. Os Estados, incapazes de promover uma lei eficaz para aqueles que haviam perdido a proteção do governo nacional originário, transferiram o problema para a polícia, que passava, pela primeira vez na Europa, a ter autoridade para agir por conta própria, dando vazão ao novo conceito de história estruturado por Walter Benjamim, e fortalecido por aquilo que chamou de estado de exceção permanente.
Na questão dos apátridas do período das guerras mundiais, a criminalização da tentativa de sobrevivência de tais grupos acabou sendo a primordial manifestação da indiferença para com a humanidade. O apátrida estava sujeito a ir para a cadeia sem jamais cometer um crime. Mais que isso, toda a hierarquia de valores existentes nos países civilizados era invertida nesse caso. Uma vez que ele constituía a anomalia não prevista na lei geral, era melhor que se convertesse na anomalia que ela previa: o criminoso.
Mas, pergunta-se: se o fundamento do Direito Penal, isto é, sua razão de existir vincula-se à possibilidade de ofensa a bens jurídicos com dignidade penal, não deveria o Estado tutelar apenas bens jurídicos com dignidade penal?
A resposta parece estar na evidencia de que o crime estabelece, simbolicamente, um patamar de igualdade humana. Na qualidade de criminosa a pessoa não poderia ser tratada pior do que qualquer outra na mesma situação.
Tal proposição nos direciona inevitavelmente a uma reflexão paradoxal: a única forma de ser reconhecido pela lei é se tornando um transgressor dela. Era reconhecido algum aspecto de cidadania a quem atentasse contra as leis da cidade. Durante o período de julgamento, o infrator apátrida estava protegido dos domínios arbitrários da polícia.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão do século XVIII trouxe à boa parte da humanidade a ingênua percepção de que todas as leis se baseariam nas suas diretrizes, e que nenhuma lei especial seria necessária para proteger pessoas ameaçadas por arbitrariedades estatais. Mas, a aporia já se instaura no limiar, pois no próprio título da declaração já está, implicitamente, instituída uma diferenciação, dando margem a uma interpretação que sugere a concepção de homem e a concepção de cidadão como sendo dissociadas. Não está claro se o intento da declaração seria o de estabelecer um sistema unitário, onde um termo está contido no outro, ou qual tipo de relação existe entre nascimento e nacionalidade.
A humanidade, tendo muitas vezes sua imagem concebida como uma família de nações, finalmente agora se deparava com esta realidade, mas de forma avessa a qualquer ideal humanitário. Uma pessoa expulsa de uma comunidade encontrava-se expulsa de toda a família de nações. Ser expulso de um país era ser expulso do mundo. O ser-que-está-nomundo passa a ser o ser-que-tangencia-o-mundo em suas arestas; o vazio de ser que preenche a crise de sentido da humanidade. É a redução do outro ao nada; o legítimo não ser ontológico, tão oprimido por toda a história da filosofia ocidental, desde seu limiar, e que agora, de fato, pode ser concebido com tamanha substancialidade. O outro como nada, ganhando dimensões biopoliticas, é retratado por aquilo que Giorgio Agamben chamou de “vida matável”; “vida nua” ou seja: a vida do Homo sacer. Esses fatos históricos nada mais são do que a própria lógica instituída pelo ocidente, sem nenhuma contradição.
Nunca se verificou com tamanha clareza que o ser é o puro, o igual, o total; e que o não-ser é o híbrido, o diferente, o nada. Nas palavras do filósofo Ricardo Timm de Souza: “O que é o nazismo: a menos hipócrita das doutrinas [...] no holocausto, como na bomba atômica, o ser foi e o não ser não foi”.
A calamidade não está nos velhos problemas dos direitos humanos, ou seja, direito à vida, à liberdade de expressão, igualdade perante a lei ou qualquer espécie de direito específico; mas no fato de essas pessoas já não pertencerem a nenhuma comunidade. Sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não existirem mais leis para eles; não de serem oprimidos, mas de não haver ninguém mais que se interesse por eles, nem que seja para oprimi-lo.
Nesse contexto, a única via de efetivação dos direitos humanos está na restauração ou no estabelecimento dos direitos nacionais. Isso contribui para que se entenda porque as pessoas se apegam tão desesperadamente à sua nacionalidade, uma vez que a perda desta implica em uma espécie de sublimação de proteções que a condição de nacionalidade garantia anteriormente.
Essa percepção revela o fracasso das concepções, sejam elas naturalistas ou racionalistas, que reverenciam os direitos humanos como sinal de uma suposta existência de um ser humano em si, domado pela sua essência, pois este homem puro, como vimos, perdeu todas as suas qualidades especificas e relacionais ao se tornar um meramente humano. “O conceito de direitos humanos (...) desmoronou no mesmo instante em que aqueles que diziam acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas – exceto que ainda eram humanos. O mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano”.
Esta afirmação confirma a insuficiência na qual, muitas vezes, a noção de dignidade da pessoa humana, tida em uma dimensão teórico-abstrata, naufraga. Ter a dignidade abstratamente reconhecida, sem que isso implique alguma inserção prática no universo das relações, acaba soando como um mero adorno retórico e uma saída tangencial para a profundidade do problema.
A questão dos apátridas e refugiados de guerra está longe de fazer parte do passado. Ainda pior, a questão da perseguição aos apátridas, especialmente aos nascidos em campos de concentração, faz parte do nosso cotidiano. A nosso ver, a efetivação dos direitos humanos não passa apenas pela afirmação de liberdades individuais, mas no reconhecimento pelo Estado de liberdades intrínsecas, como a liberdade de ter nascido onde quer que seja e ser respeitado como um ser humano.
Fontes:LIMA PEREIRA, Gustavo. Direitos Humanos e Transnacionalização: a questão dos apátridas pelo olhar da alteridade.